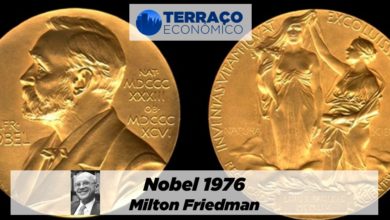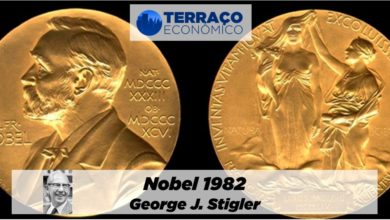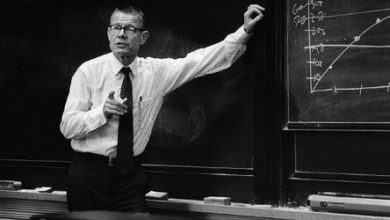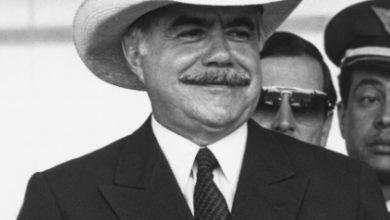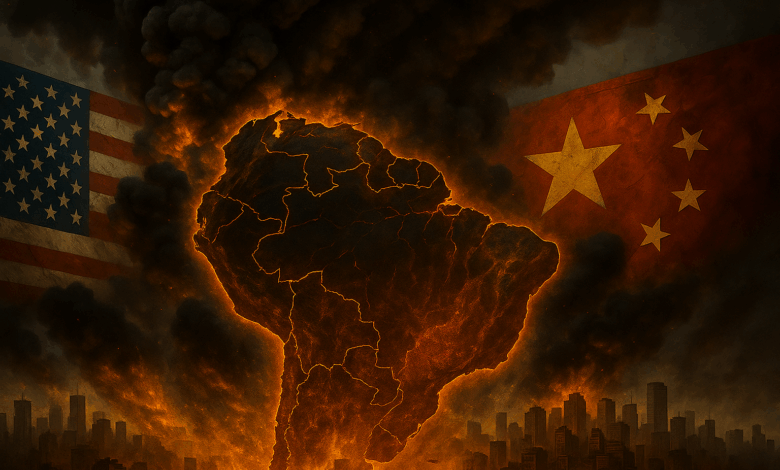
Diante da reconfiguração da geoeconomia global — entendida como o ponto de interseção entre geopolítica e economia —, observa-se um cenário em que o imperativo da política e da segurança se sobrepõe ao da eficiência econômica. As decisões estratégicas dos Estados passam a orientar diretamente a organização da produção, do comércio e dos investimentos. Ainda em formação, esse novo paradigma é pautado pela busca por segurança, previsibilidade e resiliência, moldando cadeias de valor e políticas industriais, tecnológicas e comerciais em escala mundial.
Se a globalização integrou economias pela lógica da especialização e da interdependência, o momento atual indica movimento inverso: uma reorganização guiada por soberania e proximidade política. Assim como o fordismo, o toyotismo e o pós-toyotismo redefiniram a produção e o espaço econômico em seus tempos, a presente fase sugere uma geoeconomia da precaução, resposta aos choques recentes — pandemia, guerra na Ucrânia, tensões sino-americanas — e ao desgaste do modelo liberal. O resultado é uma economia global mais segmentada, com custos produtivos maiores, intervenção estatal crescente e revisão das estratégias de offshoring. O Estado reassume papel ativo na coordenação de políticas industriais, investimentos e fronteiras tecnológicas.
Este texto busca analisar o significado dessa reconfiguração para o Brasil e a América Latina, regiões economicamente vinculadas a Estados Unidos e China e dependentes de exportações primárias. Mais que oferecer respostas definitivas, pretende propor uma leitura das tendências concretas do comércio e dos investimentos, articuladas com as transformações estruturais da economia mundial desde o pós-fordismo.
1. A transformação da geoeconomia no século XXI
O modelo pós-fordista, impulsionado pelas tecnologias de informação e comunicação, deu origem a um sistema produtivo fragmentado, interdependente e global. A verticalização produtiva do fordismo foi substituída por redes descentralizadas, flexíveis e baseadas em especialização. A logística passou a ser o “sistema nervoso” da globalização, permitindo que produção e consumo dispersos se conectassem em tempo real.
A partir dos anos 1990, a digitalização e o avanço das tecnologias de informação inauguraram o pós-toyotismo, caracterizado por automação, plataformas digitais e coordenação instantânea de cadeias globais. A economia tornou-se hiperconectada, mas também excludente para regiões incapazes de integrar-se a essa lógica.
Nos últimos anos, contudo, choques sistêmicos abalaram o modelo: a ascensão da China, a guerra comercial com os EUA, a paralisia da OMC, a pandemia e a guerra na Ucrânia. Tais eventos revelaram vulnerabilidades — cadeias longas, dependência de insumos críticos e concentração produtiva — e reacenderam a política na economia. Países voltaram a adotar políticas industriais, protecionismo e estratégias de segurança nacional.
O resultado é uma fragmentação crescente: desde 2017, o número de restrições comerciais saltou de 650 para mais de 3.000 (1). Termos como decoupling, derisking e friendshoring refletem a substituição da busca por eficiência pela busca por estabilidade. Para países em desenvolvimento, reduz-se o espaço manobra, expondo a rigidez e a vulnerabilidade da interdependência global.
2. O redesenho do comércio mundial
A atual reconfiguração não representa o colapso da globalização, mas sua transformação. As cadeias de valor continuam integradas, porém baseadas em critérios de proximidade política e segurança. Segundo estudo da McKinsey Global Institute (1), desde 2016, economias centrais vêm reduzindo a distância geopolítica do seu comércio, em um movimento de regionalização seletiva.
Os Estados Unidos têm diversificado fornecedores e reduzido dependência da China, favorecendo Vietnã, México e países da ASEAN. Na Europa, o comércio com a Rússia caiu drasticamente, enquanto as trocas com a China cresceram. A China, por sua vez, reforça vínculos com o Sul Global, inclusive a América Latina, e busca reduzir vulnerabilidades internas (1).
A redistribuição do comércio é lenta e setorial. O setor automotivo lidera a relocalização, mas a lógica da globalização ainda prevalece, agora guiada por estabilidade e previsibilidade. Como observa Taneja (2025) (2), eficiência e custo cedem espaço à segurança como novo vetor de competitividade. A geoeconomia contemporânea não rejeita a globalização — apenas a redefine, subordinando a racionalidade econômica às prioridades estratégicas.
3. O Brasil e a América Latina diante da nova geoeconomia
O Brasil e a América Latina enfrentam essa transformação a partir de posições vulneráveis: baixa integração às cadeias globais, reprimarização e fragmentação regional. A participação do comércio internacional no PIB brasileiro é inferior a 2%, reflexo de uma economia voltada ao mercado interno e de uma base produtiva pouco inovadora (3).
O ciclo de commodities dos anos 2000 intensificou a dependência de bens agrícolas e minerais, enquanto a abertura dos anos 1990 expôs a indústria à concorrência internacional, provocando desindustrialização precoce. Segundo a UNCTAD (4), países como Indonésia e Guatemala reduziram sua dependência de commodities a menos de 60% das exportações com políticas industriais e integração regional — caminho ainda distante para o Brasil.
A rivalidade sino-americana redefine fluxos comerciais e de investimento. A China já responde por 28% das exportações da América do Sul e 20% das importações regionais (5), superando os EUA. Isso cria oportunidades, mas também riscos de dependência. O nearshoring beneficia México e América Central, aproximando-os dos EUA, embora os torne vulneráveis a variações políticas.
Para o Brasil, surgem duas oportunidades: inserir-se indiretamente no nearshoring norte-americano e aproveitar o friendshoring chinês, que busca parceiros estratégicos. Para isso, o país precisa melhorar infraestrutura, segurança regulatória e capacidade industrial. A tendência de glocalização — produção local para mercados regionais — pode favorecer o Brasil, se acompanhada de políticas industriais modernas e coordenação regional (6).
A América Latina, entretanto, continua fragmentada: o comércio intrarregional é de apenas 15% das exportações. Projetos como o Corredor Bioceânico Brasil–Peru podem alterar esse quadro, reduzindo o tempo de transporte ao Pacífico em até 17 dias e impulsionando a integração física e digital (5).
A fragmentação política e institucional dificulta avanços. Divergências ideológicas, assimetrias macroeconômicas e sobreposição de blocos (Mercosul, Aliança do Pacífico, UNASUL, CELAC) geram redundância e competição. Ainda assim, a região dispõe de base institucional sólida — CEPAL, CAF, ALADI — que poderia ser articulada em torno de uma estratégia comum de desenvolvimento e infraestrutura compartilhada.
O Brasil possui vantagens relativas: liderança em energia renovável, experiência em investimento privado no setor e potencial para atrair capital voltado à transição verde. Persistem, contudo, gargalos logísticos que limitam competitividade e integração.
A América Latina está, portanto, diante de um dilema estratégico: seguir fragmentada e reativa à disputa sino-americana ou adotar uma postura ativa, construindo capacidades regionais, reduzindo vulnerabilidades e formulando políticas industriais convergentes. Como resume estudo do J.P. Morgan (5), a integração regional não é apenas uma opção econômica — é uma estratégia de sobrevivência geopolítica.
Felipe de Macedo Teixeira
Analista de Atração de Investimentos e Promoção Comercial na Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Invest RS). Mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
Referências
SEONG et al. Geopolitics and the geometry of global trade. January 2024. McKinsey Global Institute. Disponível em: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/mckinsey global institute/our research/geopolitics and the geometry of global trade/geopolitics-and-the-geometry-of-global-trade-vf.pdf?shouldIndex=false
TANEJA, Hemnat. How to Run a Global Business in a Re-Globalised World. Disponível em: https://www.ft.com/content/0940aa70-8d28-4c0f-bbc4-d394a6a6ef9b
BAUMANN, Renato. Globalização, desglobalização e o Brasil. Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, 2021. Disponível em:https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/e9cc9480-9412-4ffa-a8a1-afd17a86b5f9/content
UN Trade and Development. From disruption to diversification: How can least developed countries strengthen resilience to tariff shocks?. 30 October 2025. Disponível em: https://unctad.org/news/disruption-diversification-how-can-least-developed-countries-strengthen-resilience-tariff
JP Morgan Private Bank. Nearshoring: Uma nova era de conexões na América Latina. Disponível em: https://privatebank.jpmorgan.com/latam/pt/insights/markets-and-investing/nearshoring-a-new-era-of-connection-for-latin-america
FERREIRA, Nelson; DJANIAN, Mikael; BERNI, Tiago. Além das tarifas: como as empresas brasileiras devem se posicionar na nova ordem comercial. McKinsey & Company.24 de junho de 2025. Disponível em: https://www.mckinsey.com.br/our-insights/all-insights/como-as-empresas-brasileiras-devem-se-posicionar-na-nova-ordem-comercial#https://www.mckinsey.com.br/our-insights/all-insights/como-as-empresas-brasileiras-devem-se-posicionar-na-nova-ordem-comercial