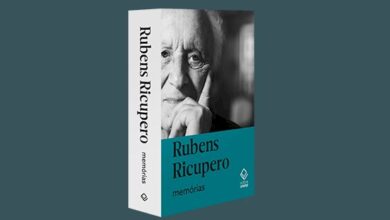O filme “Os Outros”, de 2001, conta a história de uma mulher que mora numa casa remota com os dois filhos, enquanto o marido combate na Segunda Guerra. A família, então, começa a presenciar uma série de acontecimentos estranhos, aparentemente paranormais: uma outra família começa a ser vista na casa. A trama se desenrola até a revelação principal de que, na verdade, a protagonista e seus dois filhos estão mortos e são os fantasmas da casa, comprada pela outra família. O interessante desse enredo é a forma como mostra que, sem uma referência correta de onde se está, julgar os outros apenas pela posição relativa à sua própria pode gerar grandes equívocos.
Mais de meio século antes, a célebre peça de Jean-Paul Sartre, “Entre Quatro Paredes”, já havia tratado desse tema. Na história, os três personagens são enviados ao inferno: um quarto abafado, sem janelas ou espelhos. A punição de cada um é se enxergar através do julgamento que o outro tem em função dos seus pecados. Ao terem sua liberdade restringida e existirem apenas através da visão daqueles que estão em seu convívio, cada personagem constrói uma ideia particular de inferno. O ensaio expõe a tendência humana a achar que não pertence ao que nos faz mal no convívio em sociedade: “o inferno são os outros”.
Apesar desse fenômeno ser tão antigo quanto o próprio homem, de uns anos para cá, ele ganhou um impulso sem precedentes. A massificação das redes sociais teve, como efeito colateral, a criação da ‘virtualidade real’ (termo de Manuel Castells) na qual os indivíduos perderam a capacidade de se localizarem dentro do espectro da discussão política. Isso pode ser explicado pelos algoritmos que selecionam o conteúdo que será exposto a cada usuário, que têm como objetivo maximizar o engajamento com a rede. Através de anos de prática e experimentações, chegou-se à conclusão que os melhores conteúdos para tal finalidade são de duas categorias: ou os que reforçam a visão de mundo do usuário ou os que a afrontam diretamente.
O primeiro tipo proporciona às pessoas a impressão de que, independentemente de sua posição, elas se encontram num certo ‘nível de normalidade”, ou seja, faz com que elas percam a referência de onde estão no espectro das discussões. Convencida da própria normalidade, a pessoa olha para aqueles associados aos conteúdos do segundo tipo e imediatamente os taxa de radicais. O gigantesco hiato percebido pelo usuário entre sua posição e o que ele considera radical é fruto da sub representação daqueles que estariam no meio do caminho entre os dois, preteridos pelos algoritmos. Sem o meio termo como referência, fica a impressão de que existe polarização onde não há.
Realizamos uma pequena pesquisa, de caráter exemplificativo, até por ter uma amostra pequena (115 respondentes) e pouco representativa da população brasileira como um todo. Ainda assim, os resultados são interessantes. Quando perguntados que número se dariam numa escala de 1 a 10, sendo 1 o mais moderado e 10 o mais radical, 82% se classificaram como 6 ou menos. Apenas 8% se atribuíram nível 8 e ninguém passou desse valor. Ou seja, 18% ou menos (de 18%) se vêem como radicais. A grande maioria, não.
Porém, esses mesmos respondentes indicam, em média, que um terço das pessoas do seu convívio social (família, amigos, etc.) são radicais. Como era de se esperar, a contradição é ainda maior quando a pergunta foca nas pessoas com as quais estão conectados através de redes sociais. Os respondentes apontaram, em média, 42% de radicais. A diferença de 9% entre os valores obtidos para o ciclo social e para os contatos de redes sociais é bastante robusta do ponto de vista estatístico. A divergência numérica entre as três perguntas é reflexo tanto da perda de referência do ponto de vista do indivíduo quanto do viés das redes sociais.
Apesar de não ajudar na construção do debate democrático, não há nada intrinsecamente errado em ser radical de qualquer corrente política. Porém, ao não se perceber dessa forma, a pessoa acaba se assemelhando ao personagem de Francisco Milani em “Viva o Gordo” que, apesar de suas visíveis excentricidades que desconcertavam a todos, fazia questão afirmar categoricamente: “Eu sou normal”. Para esses casos, uma solução possível é o que Carlos Drummond chamou de “a dificílima, dangerosíssima, viagem de si a si mesmo … descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada, alegria de con-viver”. No mais, é preciso estar atento aos sinais. Desconfie caso você esteja vendo fantasmas ou muitos radicais e considere que, talvez, você não seja nem paranormal nem normal.
Eduardo Sholl Machado
Cientista político e mestre em relações internacionais pela IE University
João Marco Braga da Cunha
Doutor em engenharia elétrica pela PUC-RJ e mestre em economia pela FGV