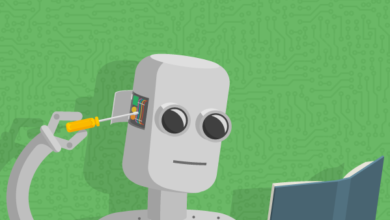Por décadas, a política brasileira funcionou em um arranjo informal, imperfeito e relativamente estável. O PMDB, fisiológico, regionalmente fragmentado e, por vezes, corrupto, exercia um papel paradoxal: era o grande amortecedor do sistema. Forte no Congresso, com capilaridade nacional e lideranças capazes de enfrentar Executivo e Judiciário, o partido funcionava como um freio de mão: não deixava o país deslanchar, mas também não o deixava descer a ladeira desgovernado.
A partir de 2016, esse modelo começou a ruir. O grampo de Joesley Batista ao então presidente Temer, o desgaste de outros caciques históricos na Operação Lava Jato e a mudança do clima político nacional produziram uma erosão acelerada do PMDB. Aquilo que muitos viam como um problema, um partido grande demais, fisiológico demais e poderoso demais, deu lugar a algo potencialmente mais desestabilizador: a ausência de um centro minimamente coeso e o enfraquecimento do Poder Legislativo.
O episódio em que Renan Calheiros ignorou uma intimação do STF que determinava seu afastamento da Presidência do Senado simboliza um dos últimos momentos em que o Legislativo ainda tinha musculatura política. Poucos anos depois, o movimento se inverteu: um Congresso fragmentado, renovado por parlamentares sem repertório institucional, passou a temer o Supremo. O Legislativo deixou de ser contrapoder e tornou-se um ator defensivo, preocupado em não desagradar aqueles que poderiam expor, cassar ou prendê-lo.
O Poder Executivo já vinha em uma trajetória de perda de força. Desde a Constituição de 1988, presidentes e ex-presidentes passaram a conviver com investigações criminais, condenações e prisões, e dois tiveram seus mandatos interrompidos em processos de impeachment. Prerrogativas presidenciais, como a nomeação para cargos da administração direta, o controle sobre a liberação de verbas de emendas parlamentares, a concessão de indultos e até mesmo a condução da política de saúde pública na pandemia de Covid-19 foram sendo judicializadas, condicionadas ou limitadas. Concomitantemente ao esvaziamento do PMDB, um processo similar atingiu o Legislativo, com decisões do STF que passaram a interferir em sua agenda, atingir individualmente mandatos de parlamentares e elevar o custo político de confrontar a Corte, como no caso da prisão do deputado Daniel Silveira, referendada pela Câmara.
Diz-se que o poder não deixa vácuo, e o STF corroborou essa tese. Impulsionado pelo capital político e pela credibilidade junto ao público acumulados durante a Lava Jato, o Supremo ocupou o espaço deixado pelos outros Poderes. O Judiciário assumiu sua forma de Leviatã e tomou para si a tarefa de “salvar a democracia”. Legislou, prendeu, censurou, arbitrou conflitos políticos e ampliou seu raio de ação muito além do previsto pela Constituição. Mais por oportunismo que por maquiavelismo.
O fim do PMDB como força central criou um desequilíbrio estrutural: sem um grande partido capaz de negociar, amortecer crises e impor limites aos demais Poderes, instalou-se um pêndulo institucional descontrolado. A promessa de limpar o sistema acabou desarrumando o mecanismo que, com todos os seus defeitos, mantinha o tabuleiro funcionando. Olhando em retrospectiva, a famosa frase de Temer, “tem que manter isso aí, viu?”, ganha ares quase proféticos: mexer em certas estruturas estabelecidas pode levar a consequências inesperadas e, por vezes, difíceis de reverter.
A democracia brasileira sempre conviveu com uma fragilidade crônica, mas o desequilíbrio entre os Poderes se acentuou quando o PMDB deixou de existir como força estruturante. Ao tentar resolver um problema, criamos outro maior: um país sem centro, sem freios e com um Judiciário atuante para além de suas prerrogativas, como protagonista permanente, cada vez menos disposto a sair do palco.
Eduardo Sholl Machado
Cientista político e mestre em relações internacionais