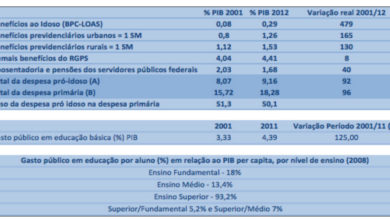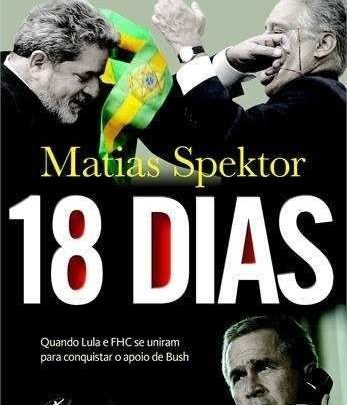
Por Victor Candido
O segundo semestre de 2002 se tornou um emblema na história política brasileira, a eleição de Lula, a transição magistral liderada por Fernando Henrique Cardoso em meio à maior crise de confiança da redemocratização, e o iminente risco de o Brasil colocar a perder todo o saneamento político econômico, até ali feito.
Uma transição de governo, da direita para a esquerda, em meio a tamanha desconfiança como foi aquela, é como um reabastecimento em voo de um grande avião. Se ambas as aeronaves não estiverem perfeitamente pareadas, isso é, na mesma velocidade, a possibilidade de um desastre é imensa, praticamente certa.
Logo um enorme esforço diplomático se tornou necessário no sentido de fazer a Casa Branca avalizar a chegada de Lula ao poder. Tal apoio era crucial uma vez que ainda estávamos negociando com o FMI, e a esfera política na América do Sul se deteriorava rapidamente. É nesse cenário de eminente caos que Matias Spektor narra em seu livro “18 Dias”, as histórias da costura política por trás do enorme esforço diplomático, da sagacidade de Fernando Henrique que coordenou ativamente com José Dirceu a transição.
[caption id="attachment_1737" align="aligncenter" width="347"] 18 Dias, Matias Spektor. Editora Objetiva, 288 páginas, R$ 36,90[/caption]
18 Dias, Matias Spektor. Editora Objetiva, 288 páginas, R$ 36,90[/caption]Matias conversou com o Terraço sobre seu novo livro, e cortou a fita vermelha no nosso novo espaço, o Terraço Entrevista.
Terraço Econômico: Matias, Por que decidiu escrever esse livro, sobre essa imensa costura política?
Matias Spektor: Porque nosso debate público sobre política externa ficou contaminado pelo Fla-Flu entre PT e PSDB, limitando nossa capacidade de pensar. Essa polarização produziu crenças falsas. Para muitos tucanos, os petistas adotaram uma política “bolivariana”. Para muitos petistas, os tucanos cometeram o crime do “entreguismo”. Essas visões são falsas e ignoram a verdadeira lógica da política por trás da política externa. Neste livro conto uma história mais precisa do que aconteceu, usando os documentos secretos agora disponíveis para a pesquisa e entrevistas com os participantes.
Por que o governo Bush em 2002 decidiu apostar no presidente eleito Lula?
Quando Lula começou a despontar nas pesquisas de opinião, um grupo de doze deputados republicanos enviou uma carta a Bush pedindo que os Estados Unidos agissem contra o PT. Achavam que o partido montaria um “eixo do mal” na América Latina, junto a Hugo Chávez e Fidel Castro. Bush jogou seu peso para evitar que esse boato ganhasse força. Ele fez isso porque precisava da ajuda do novo governo brasileiro. A América do Sul estava desmanchando. A Argentina havia dado o maior calote da história. A Colômbia estava perdendo a guerra contra as Farc. A Venezuela havia acabado de sofrer uma tentativa fracassada de golpe de Estado com anuência norte-americana. A Bolívia podia explodir a qualquer momento. E a economia brasileira precisava de ajuda. Bush queria interlocução na região e percebeu que Lula era o melhor companheiro para a empreitada.
A cooperação de bastidor entre Lula e FHC em 2002 é uma prova que a democracia brasileira se tornou de fato madura?
Sem dúvida. FHC e Lula tomaram todo o cuidado com aquela sucessão não apenas pelo clima econômico incerto, mas também pelo ineditismo daquela passagem de poder. Era a primeira vitória de um partido de esquerda num país conservador. Era a primeira vez que um presidente eleito passaria a faixa presidencial para outro presidente eleito e, este segundo, terminaria o mandato sem morrer, se suicidar ou ser derrubado por um golpe. A transição de 2002 é uma lição sobre o uso do poder político. Em público, Lula e FHC competiram como sempre. Nos bastidores, desenharam uma estratégia comum para impedir a crise anunciada com o país mais poderoso do mundo. Agiram rapidamente e com esperteza, sem fazer alarde disso. Não foi só talento pessoal. Eles tinham operadores de primeira: José Dirceu e Pedro Parente, Antônio Palocci e Pedro Malan, o embaixador Rubens Barbosa. De quebra, contaram com a ajuda da embaixadora americana, Donna Hrinak. Foi uma operação delicada, mas deu certo.
Você diz que todas as grandes transições de poder no Brasil precisaram ser avalizadas pela Casa Branca: a proclamação da República, o fim do Estado Novo, o golpe de 1964 e a volta à democracia em 1989. Por que?
Porque em todas essas transições, a sociedade brasileira enfrentava um grande potencial de desestabilização. Por isso, as lideranças políticas da época buscaram o apoio do ocupante da Casa Branca. Num sistema internacional muito desigual, o poder dos Estados Unidos se faz sentir de várias formas. Uma delas é o beneplácito dado pelo presidente a mandatários de terceiros países. Em escala muito menor, algo similar ocorre quando os candidatos presidenciais de países sul-americanos vêm a Brasília, ainda durante a campanha, para tirar uma foto ao lado do ocupante do Palácio do Planalto.
Você nota que todos os presidentes desde 1989 terminaram seus mandatos com relações piores com Washington do que quando começaram. Qual a causa?
Fazer negócio com os Estados Unidos é difícil para qualquer governo brasileiro. Há três motivos principais: há um choque real de interesses, principalmente na área comercial e econômica; existe profunda desconfiança mútua nas respectivas burocracias estatais (sobretudo no Departamento de Estado e no Itamaraty); e a visão de cada país a respeito do funcionamento da ordem global é diametralmente oposta. Na concepção americana, o sistema internacional é estável, flexível e amigável para terceiros países – sua raiz é liberal. Na concepção brasileira, esse sistema é instável, inflexível e hostil com países não-Ocidentais – muitas de suas características são iliberais.
Como alguém que dedicou toda a vida acadêmica a estudar as relações internacionais, o que você acha do treinamento que os profissionais tem recebido? Há alguma deficiência grave na formação dos analistas de relações internacionais? Existe algo que você não aprendeu que fez falta durante a carreira?
Sou muito crítico do formato que os cursos de graduação têm no Brasil. Não apenas os de Relações Internacionais, mas a formação de graduação em geral. A meu ver, sobram horas de sala de aula e faltam horas de leitura. A ênfase em profissionalização – em detrimento de uma educação para valer – é uma praga. E há uma ausência chocante de treinamento especializado em redação e debate, o que produz um ambiente intelectual murcho. Nada disso tende a mudar no curto prazo, lamentavelmente.

Matias Spektor é professor de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. Além de livros e artigos acadêmicos, ele assina uma coluna quinzenal na Folha de S. Paulo e já publicou em jornais como The New York Times e The Financial Times. Matias foi pesquisador visitante no Council on Foreign Relations, no Woodrow Wilson International Center for Scholars, em King’s College London e na London School of Economics. Depois de graduar-se pela Universidade de Brasília, trabalhou para as Nações Unidas. É doutor pela Universidade de Oxford.