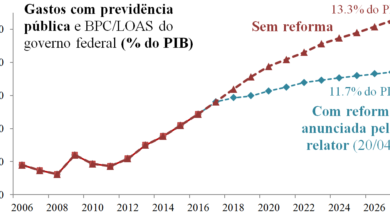O modo como um governo aloca recursos nos diz muito sobre a sociedade que ele representa. Afinal de contas, em essência, a tarefa de direcionar dinheiro público para áreas específicas é, ou deveria ser, a melhor e maior representação daquilo que essas mesmas pessoas valorizam e priorizam.
Por inúmeras razões, algumas nações gastam proporcionalmente mais com despesas relacionadas a guerras, outras, por sua vez, preferem gastar mais na construção de uma robusta rede de proteção social, por exemplo. Alguns países, como os escandinavos, podem pensar coletivamente que um Estado mais presente e robusto é essencial. Outros países, como os Estados Unidos, podem discordar quanto a essa importância, tendendo mais a uma economia com Estado mais enxuto.
A priori, não há nada de errado com o jeito que as pessoas desejam que seu governo gaste. Afinal, o Estado não é um fim em si mesmo, dado que sua principal tarefa é a de servir como meio para que as pessoas sob seu mando possam atingir seus desejos e aspirações. Assim, contanto que o Estado esteja sendo utilizado para canalizar os desejos de seu povo, e desde que esses desejos não impliquem, direta ou indiretamente, prejuízos para outros povos, esse processo estará fluindo da maneira correta. É assim que o contrato social deve se dar.
Um dos pré-requisitos para contratos é que as partes envolvidas devem compreender o seu funcionamento e a sua implicação. Dado que contratos, geralmente, envolvem tanto abdicações quanto ganhos, é de relevância fulcral ter essa noção. Em particular, o contrato social demanda esses mesmos requisitos. Por um lado, isso significa que o governo tem responsabilidades perante os cidadãos. Logo, deve ter poderes limitados, sendo esse limite definido pelo povo e esse poder utilizado em consonância com os desejos da sociedade. Por outro lado, isso requer que as pessoas assumam igualmente alguns compromissos com o Estado, e um desses compromissos é financiar suas operações.
Aritmeticamente, os governos não conseguem, nem com voluntarismo ou com as melhores intenções, gastar mais do que arrecadam com impostos. Isso não denota, contudo, que em um período limitado, os governos não consigam incorrer em déficits fiscais, mas assegura simplesmente que esse rombo deverá ser eventualmente tapado – seja no curto ou longo prazo, seja por meio de inflação ou mais impostos. Em outras palavras, a contabilidade social básica assegura que ativos e passivos públicos vão invariavelmente equivaler no fim das contas.
Dessa forma, o principal constrangimento para gastos do governo são as receitas desse mesmo governo. Uma derivação interessante dessa “regra de ouro” é que as pessoas que recebem benefícios do governo são as mesmas que terão de arcar com seus custos. É uma via de mão-dupla: mais despesa requer tout simplement uma maior carga tributária para os cidadãos. Como disse Margaret Thatcher em sua famosa frase, não existe dinheiro público – somente dinheiro dos pagadores de impostos.
No entanto, muito embora essa regra faça parte do contrato social, não é sempre que as pessoas a entendem; às vezes querem até mesmo arrumar atalhos para tentar – sem sucesso, obviamente -, contorná-la. Mas por que isso ocorre, ainda mais com tamanha frequência? O que pode explicar essa anomalia persistente acerca do entendimento do contrato social?
Em primeiro lugar, pessoas nem sempre se sentem, ou não se fazem sentir, parte da sociedade. Para alguns, na verdade, “sociedade” é meramente uma abstração, algo externo ao indivíduo, muito distante da vida real e material.
Nesse sentido, o fardo fiscal sempre pode ser custeado pela “sociedade” – esse ser transcendental, extrínseco, evocado de forma escapista. A sociedade é sempre o outro, nunca sou eu. É justamente esse bode expiatório (a tal sociedade) que distingue, para alguns, as finanças públicas das pessoais – daí a impossibilidade de aplicar lições de uma à outra. O economista Gustavo Franco cunhou o termo tributação do ausente para descrever esse fenômeno irônico no qual inexistem restrições orçamentárias uma vez que sempre se pode passar a conta de pirotecnias fiscais para um “ausente”. Esse ausente pode assumir distintas faces, a depender do método empregado. No caso do imposto inflacionário, o ausente é o pobre, incapaz de proteger-se da carestia de preços; no caso do endividamento, ele é a coorte da geração seguinte, que terá de arcar com esse ônus no futuro (sem necessariamente ter recebido o bônus), despertando, nas palavras de Franco, uma “luta de classes intergeracional”, já que a dívida de hoje pode ser igualmente compreendida como o imposto de amanhã.
Um outro motivo para isso emerge da noção equivocada de que as diversas despesas que compõem o orçamento – sejam elas com saúde, infraestrutura, aposentadorias, salários, educação – não estão em conflito umas com as outras. Metaforicamente – e seguindo essa lógica errada do não conflito das despesas -, se um governo fosse um cobertor, sempre seria possível cobrir o corpo todo, da cabeça aos pés, simultaneamente. A realidade, no entanto, é bem mais complicada. Ocorre que inevitavelmente existirá um tradeoff entre a cabeça e os pés: sempre um deles ficará com frio e pedirá por aquecimento. É isso o que se vê quase todos os dias nos corredores de Brasília (é o tão conhecido lobby).
Enfim, dado que existe um limite para as despesas, é de suma importância entendê-lo, para conseguir aplicar a sua essência no debate público. A partir daí, deve-se começar a tarefa da realocação de modo a maximizar o bem-estar agregado, algo que passa inexoravelmente por direcionar recursos de acordo com a importância social da área financiada. Passa, ademais, por um entendimento de custo de oportunidade – um conceito econômico tão basilar e importante quanto desprezado no debate. No fim, o que se quer ver é uma razão unidade de moeda/utilidade marginal gerada igual e máxima para cada unidade de moeda gasta – ou seja, um resultado Pareto-eficiente, ou tão próximo a isso quanto se consiga chegar.
A tarefa de realocar recursos de acordo com a área para a qual será redirecionado é árdua, porque ao menos que alguém assuma que as despesas já estejam dispostas em nível ótimo, isso demanda cortes em alguns lugares e aumentos em outros. Mas como a psicologia comportamental nos ensina, as pessoas temem perdas mais do que anseiam por ganhos. Assim, um jogo de soma-zero – se considerarmos que o total de despesas se mantenha constante – pode ser, como usualmente é, erroneamente percebido como um jogo de soma negativa, o que é por si só um ímã a condenações mal fundamentadas, mas extremamente ruidosas e sedutoras ao ouvido incauto.
Além do mais, certos grupos de interesses cujos privilégios serão alterados trabalharão em favor do status quo às custas de muitos outros para os quais os benefícios ao fim desse processo será menos que proporcional vis-à-vis o impacto a essas corporações. Sem contar que não é socialmente claro que não há uma relação perfeita entre mais gastos e melhor provisão de serviços públicos, ou seja, nem todos os nossos problemas se resolvem simplesmente através de mais verbas. Às vezes, o problema está não no montante, mas na eficiência com a qual ele é utilizado – e isso é especialmente verdadeiro no Brasil.
Economicamente, a realocação é uma tarefa relativamente simples, mas politicamente, a realidade é bem mais custosa: demanda tempo, comunicação social, lideranças corretas e paciência. Em que pese a dificuldade, deve-se, como sociedade, lograr êxito nessa empreitada. Afinal, aqueles que ignoram o princípio da escassez no nível macro estão fadados a viver em meio a ela no nível micro. Sem exceções.
Guilherme Araújo Lima
Estudante de Economia na UFMG.