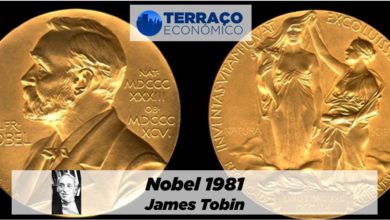Tudo começa com uma ideia. Diante de um salto sustentado da inflação, um Banco Central pode decidir elevar as taxas de juros, apoiado no entendimento de que a supressão financeira reduzirá a demanda agregada e, com isso, descomprimir uma pressão importante sobre os preços. Ok. Mas este entendimento está baseado em um conjunto teórico que, por sua vez, começou com uma ideia de como as coisas funcionam e como elas podem ser moldadas.
Isso vale para a política monetária (caso do exemplo acima), mas vale também sobre a melhor forma de garantir competição na telefonia celular. Ou como uma alteração na estrutura de impostos pode eventualmente aumentar a contratação de mão de obra. Ou como um governo pode definir os critérios para mulheres e homens se aposentarem. Seja o que for, tudo começa com uma ideia.
A ideia pode ser boa e depois se revelar um desastre. Ela pode nascer de forma bonita, ganhar grande repercussão em revistas prestigiadas do mundo acadêmico, mas simplesmente não ser aprovada pela maioria dos eleitores em um país de regime democrático. Outra ideia pode nascer de um brainstorm despretensioso e funcionar perfeitamente bem por anos a fio.
Mas para uma ideia virar uma política pública, ela precisa passar pelo debate público e perseverar na cabeça dos agentes. Vale para qualquer ideia, em qualquer tempo. É preciso convencer e, para isso, é preciso ter bons argumentos.
Binyamin Appelbaum, repórter especial e colunista de economia do jornal americano The New York Times, escreveu um precioso livro justamente sobre isso: como um conjunto de ideias de como as coisas deveriam funcionar nos Estados Unidos nasceu na academia e em algumas salas de repartições públicas e algumas empresas e, ganhando aos poucos o debate público, virou do avesso a política econômica americana a partir de meados dos anos 1970. Estavam envolvidos diversos economistas que ganhariam prêmios Nobel.
O livro, The Economists Hour, traz uma narrativa absolutamente envolvente, que tende a capturar economistas, claro, mas também aquelas e aqueles ligados ao Direito, à Administração Pública, à Ciência Política e ao Jornalismo. Ele traz histórias de vida e, principalmente, de ação de homens e mulheres que revolucionaram a forma de fazer política econômica. Nem todos os resultados dessa revolução intelectual foram positivos. Em muitos casos, as mudanças foram para pior.
É possível convencer policy makers a seguir um determinado caminho, sustentado em argumentos robustos e lógicos – mas errados. Nem toda política econômica do presente é correta ou adequada. O status quo não é necessariamente o único caminho possível. Ele é apenas o resultado de um convencimento prévio. Mas até que algo danoso seja corrigido (o que é resultado de novos convencimentos…) muita gente não consegue conceber uma mudança.
O livro de Appelbaum conta muito bem como diversas batalhas intelectuais foram travadas. As cicatrizes dos anos 1970 e 1980 ainda estão vivas.
Li o livro na última viagem que fiz: em meados de fevereiro, à trabalho, para a costa leste dos Estados Unidos. Fascinado pela leitura, escrevi uma breve thread no Twitter logo antes de voltar ao Brasil, a 16 de fevereiro. Ali começou o diálogo com o autor. Quando fui abordado pelo amigo Guilherme Tinoco para contribuir para esta série sobre economistas vencedores do Nobel, pensei que, afinal, seria rico conversar com Appelbaum e trazer uma entrevista com ele. Tudo começa com uma ideia. Ele gentilmente topou e o resultado do papo de uma hora, feito por telefone e gravado, está logo abaixo, devidamente traduzido para o português.
João Villaverde: Gerações e gerações de economistas, no mundo todo, foram formadas com arcabouços teóricos que se provaram insuficientes ou simplesmente errados, como o caso da dramática expansão monetária por anos a fio desde 2009 sem que a inflação tenha sequer se movido nos países ricos. Isso parece ter sido agravado neste 2020, o ano da pandemia, quando os bancos centrais mundo afora dobraram a aposta na larga emissão de moeda. O mesmo vale para a curva de Phillips, inviabilizada pelas evidências: o mercado de trabalho nos EUA testou o pleno emprego por anos consecutivos até o início de 2020 e nada de inflação. Quer dizer, a realidade prática acabou negando, ou ao menos tornou nublada, a aceitação cega a achados teóricos de economistas muito relevantes, alguns dele vencedores do Nobel, inclusive. Como você acha que evoluirá o pensamento dos economistas a partir de agora?
Binyamin Appelbaum: Me parece claro que os economistas serão mais humildes, ao menos um pouco mais, a partir de agora. Exatamente como você descreveu, os economistas transformaram suas hipóteses em verdades absolutas, tendo em seguida levando suas conclusões a manuais de política econômica. Francamente, algumas dessas ideias não tinham uma fundamentação por evidências muito robusta. O mundo teórico supera em muito as evidências da realidade. Mas acho que o pressuposto mais importante que assistimos nos últimos anos é o de que existe uma macroeconomia cujos instrumentos podem ser facilmente administrados. Como se os economistas fossem os astronautas que olham para a Terra. Quero dizer: se você está olhando para aquilo, você pensa que pode manipulá-la. Esse pressuposto levou a uma explosão de teorias econômicas, a maior parte delas tendo sido expressadas com grande confiança por seus fundadores e seguidores. Houve então o surgimento de teorias impressionantes, ditando como precisamente a política econômica deve ser conduzida, com a teoria servindo de evangelho, sendo que pouco – muitas vezes nada! – é confirmado por dados e evidências. A Curva de Phillips é um dos exemplos. Ela dominou a teoria econômica e mesmo a política monetária praticada pela maior parte dos bancos centrais, a despeito do teórico ter dados de um único país e a partir deste extrapolado para todos os demais. É surpreendente como rapidamente os economistas acreditam em teorias com muitos poucos dados subjacentes. Nos últimos anos, o avanço tremendo da organização de dados e levantamento de informações tem feito com que todos nós entendêssemos melhor como uma economia realmente funciona. Esse período pedagógico tem derrubado muitas das teorias que considerávamos indiscutíveis.
JV: Em seu livro, você cita uma série de economistas, muitos dele com prêmio Nobel na área, que foram determinantes para o debate nos anos 1960 e 1970 e a partir dos anos 1980 ganharam o primeiro plano de política econômica nos países ricos e também nos mais pobres. Alguns deles toparam auxiliar, direta ou indiretamente, ditaduras e regimes autocratas, à esquerda e à direita. O caso mais conhecido aqui na América do Sul é a associação direta que gabaritados economistas americanos, muitos ligados à Universidade de Chicago, tiveram com a ditadura do general Augusto Pinochet, no Chile. Este, aliás, é o tema de um dos capítulos mais interessantes de seu livro. Você poderia comentar um pouco sobre essa associação entre economistas que aceitam trabalhar para governos anti-liberais, anti-democráticos?
BA: Esta é uma ótima pergunta. Me leva a pensar sobre a responsabilidade moral dos economistas. Aqueles que aceitam prestar serviço à governos populistas ou simplesmente nefastos, sem dividir o pensamento com a linha geral do governo, o fazem por acreditar ser possível se engajar tecnicamente, sem ter grau algum de responsabilidade pelo que o governo que paga seu salário faz em outras áreas, como ambiental, sanitária, educacional e tantas outras. Entendo que muitos economistas pensam ter agido como técnicos, simplesmente técnicos. Nos casos que estudei, economistas se engajaram na política econômica de governos populistas ou mesmo de ditaduras acreditando ser possível tornar uma situação ruim em algo um pouco melhor. Eles buscaram uma justificativa moral para aquela decisão. No entanto, me parece claro que isso não pode ser feito de forma neutra. Você não pode servir de conselheiro de um governo ou, mais que isso, trabalhar para um governo, sem ser co-responsabilizado pelo que o governo faz. Você simplesmente não deve auxiliar um governo autoritário, que viola direitos humanos. Mas o que mais me incomoda é quando há, na história e mesmo no presente, economistas que entendem ter autoridade para colocar de pé uma política econômica incompatível com a democracia.
JV: Como assim?
BA: Veja, o que ocorreu no Chile durante a ditadura Pinochet é revelador. A política econômica colocada em vigor naqueles anos já tinha sido apresentada como plataforma eleitoral em diversas campanhas no país e ela fora sempre derrotada pelo eleitorado chileno. Então quando os economistas, sob Pinochet, se aproveitam de um estado de exceção para colocar em marcha aquelas ideias, eles estão usufruindo de uma situação não-democrática. Repare que não estou julgando o mérito das ideias, mas sim o fato de que elas não respeitaram a democracia. Não foi apenas no Chile, dado que na Indonésia ocorreu algo parecido. Esses são casos radicalmente distintos do que ocorreu na Inglaterra sob o governo de Margaret Thatcher (que assumiu em 1979). Ela venceu as eleições e tinha, portanto, liberdade democrática para implementar a política econômica vitoriosa.
JV: Por todo o seu livro fica claro o papel que o debate público ofereceu aos economistas, especialmente nos Estados Unidos. Stigler, Friedman e tantos outros, buscaram incessantemente convencer a sociedade e os policy makers em particular sobre suas ideias e teorias. Muitos anos antes, ainda na década de 1920, isso já estava claro para Keynes, que publicou um conjunto de ensaios sob o título “Ensaios sobre Persuasão”, quando ele deixa claro seu interesse em formar percepção, em convencer. Então te pergunto, Appelbaum, à luz do seu livro sobre o papel das ideias de economistas influenciando políticas públicas e também a sua prática como jornalista no New York Times, qual foi o papel dos meios de comunicação para os economistas?
BA: Essa é uma pergunta interessante. Aliás, este tem sido o principal ponto das interações que tenho tido com economistas aqui nos EUA depois que publiquei o livro. Muitos dizem que seu papel no debate público não é o de moldar a realidade, não é de influenciar a política econômica, mas tão somente o de oferecer aconselhamento sobre boas práticas. Pode ser que sim, mas minha pesquisa sobre aquele momento transformador, de quando o debate vaza da academia americana, nos anos 1950 e 1960, para a política pública, a partir da década de 1970, tem papel preponderante dos meios de comunicação. Veja: é muito difícil para um governo se engajar em uma determinada política se ela não estiver subscrita pelos economistas no debate público. Isso é verdade aqui nos EUA e me parece ser o caso em boa parte do mundo hoje em dia. Há áreas de políticas públicas, por exemplo, que foram totalmente terceirizadas para os economistas, como a política monetária. Em outras, como política fiscal, o papel dos políticos como intermediadores ainda permanece forte, mas mesmo aí as vozes dos economistas no debate público têm muita relevância.
JV: Aliás, sobre isso, me chamou muito a atenção no seu livro a forma como alguns republicanos fizeram para votar pelo aumento de impostos em outubro de 1990, no governo George H. Bush: de forma escondida, quase que sorrateira, porque já havia naquele momento a dificuldade eleitoral de ser visto votando junto dos Democratas e porque esse tema tributário já estava prestes a virar um dogma para os Republicanos…
BA: Sim. Aqui nos EUA, a política tributária tem um partido que há trinta anos cerra fileiras nessa bandeira de redução de impostos. Em muitos casos, a posição é puramente ideológica, tem pouca justificativa técnica. Neste sentido, os economistas que oportunisticamente defendem algo semelhante acabam servindo de anteparo intelectual para uma posição que é, na realidade, apenas política, dogmática até.
JV: Você traz frases geniais do Stigler, como aquela sobre a primazia de modelos (na página 139 da edição original, em inglês). Este, inclusive, é um debate muito vivo no campo, especialmente economistas que vivem de pesquisa acadêmica ou aplicada e aqueles que trabalham com políticas públicas ou no setor produtivo privado.
BA: Os críticos dos economistas costumam dizer que eles são idiotas que acreditam que os mercados são totalmente racionais e que o consumidor comum é absolutamente racional. Economistas como Stigler e Friedman (dois prêmios Nobel) sabiam muito bem que as pessoas não atuam de forma perfeitamente racional. Eles sabiam disso. Mas argumentavam que era possível obter melhor resultado de seus modelos se fossem assumidos como premissa de que sim, pessoas e mercados são racionais. Eles e as gerações de seguidores não estavam errados em usar essa abordagem, mas sim por terem levado longe demais. Os mercados nem sempre são eficientes. Você faz um trabalho melhor como economista assumindo que são ou que não são? Não é claro qual rota é preferível. Temos aprendido cada vez mais sobre o funcionamento das coisas. Mas acho importante ter em conta que há real valor em como esses economistas que mencionamos fizeram seus trabalhos.
JV: Você conta em determinado momento de seu livro uma história do Paul Volcker (ex-presidente do Fed, falecido meses atrás) envolvendo o economista William Sharpe (prêmio Nobel de Economia). Volcker conta que certa vez conversava com Sharpe sobre os derivativos no mercado financeiro. Eis então que aquele perguntou a Sharpe se, afinal, os derivativos e o conjunto de inovações financeiras adicionavam alguma coisa ao crescimento econômico. “Nada”, respondeu Sharpe, adicionando que “eles são mesmo muito divertidos”. Tomo esse ponto para destacar como às vezes o cidadão médio é instado a acreditar que essa miríade de instrumentos financeiros não é apenas isso, instrumentos financeiros, mas que também exercem grande importância para o desenvolvimento econômico.
BA: Sem dúvida, sem dúvida. Devo dizer que gastei muitas horas de minha vida com Volcker, que renderam grandes e boas conversas. Ele era uma pessoa fascinante. Sobre este ponto que você destacou, ele estava deixando claro que os derivativos financeiros, essa invenção já muito antiga, trazem embutido um risco elevado. É até incrível que nós temos que dizer isso, né? Inovações financeiras não são necessariamente boas. Existem criminosos inteligentes. Não podemos nos esquecer nunca disso. Aquela visão preponderante no pré-2008, de que o mercado financeiro era tão eficiente que simplesmente tornava quase impossível a prática de atos errados, é embaraçosa. Para dizer o mínimo. Era, aliás, a visão professada por Alan Greenspan [ex-presidente do Fed e personagem importante do livro de Appelbaum]. É vergonhoso que Greenspan tenha se engajado nessa visão Poliana.
JV: Seu livro traz grandes insights sobre a evolução do pensamento econômico e como políticas públicas em várias áreas (primeiro em regulação, depois em política monetária, gastos militares, chegando em educação, política comercial e outros segmentos) passaram por uma verdadeira revolução conforme aumentava o envolvimento dos economistas com elas. Seja de forma direta, com economistas virando policy makers, seja indireta, a partir da interação dos economistas com o mundo do Direito, da Ciência Política e da Administração Pública. Seu livro mostra casos de sucesso e casos de fracassos retumbantes. Como fazer para que teorias sabidamente erradas, políticas obviamente fracassadas, não sejam repetidas em um futuro próximo?
BA: Isso me inquieta também, João. É mais difícil mudar mentes do que personalidades. O comunismo, por exemplo, foi um desastre absoluto para todos aqueles que viveram sob regimes comunistas em qualquer lugar do mundo. Mas o mesmo comunismo acabou beneficiando aqueles que viviam em sociedades capitalistas. Porque, goste ou não, o comunismo – e especialmente a propaganda comunista – forçava administrações em países capitalistas a trabalharem melhor, perseguindo sociedades melhores. O fim do comunismo certamente foi positivo, novamente, para aqueles que viviam sob a chaga desses regimes, mas por outro lado, ele reduziu em muito a pressão sobre os países capitalistas. A perda de medo de uma alternativa, dado que ela deixou de existir na prática, acabou levando a intensificação de movimentos muito negativos para a maior parte das pessoas em países ricos. Um conjunto de políticas foi desarticulado, levando a maior concentração de renda e a questionamentos muito profundos. Nós temos que encontrar um jeito de aumentar a competição no mercado de ideias.
JV: Neste sentido, Appelbaum, seu capítulo sobre Taiwan e Chile me vem à cabeça.
BA: Exatamente. Aquela “competição” foi importante. É digno de nota que Taiwan tenha, mais ou menos na mesma época do Chile sob Pinochet, adotado uma mudança de eixo em sua política econômica. Mas enquanto o Chile ditatorial adotou aquele conjunto de políticas que conversamos há pouco, Taiwan adotou uma estratégia de política econômica totalmente distinta. E eles conseguiram resultados melhores, sob qualquer ponto de vista, do que os chilenos. Quero dizer: não podemos pensar que estamos presos a uma forma de fazer as coisas, a um punhado de teorias que não podem ser questionadas.
JV: Perfeito. Minha última pergunta, Appelbaum, é quanto a sua motivação para escrever The Economists Hour. O que te levou a escrever este livro?
BA: Bem, eu escrevo sobre economia há mais de 15 anos. Tempos atrás, eu li “Prophets of Regulation”, de Thomas McGraw, que traça a evolução das ideias sobre como o governo deve agir em regulação de setores econômicos. O livro narra essa evolução do pensamento, dominado por advogados, mas tendo como eixo a política pública de regulação. Houve uma revolução mesmo na forma como os governos passaram a encarar a regulação, a partir dos anos 1970. A regulação de aviação civil, de telecomunicações, de energia e minérios e assim por diante. Eu, até então, não tinha dado muita importância a essas mudanças e, principalmente, como era o estado de coisas antes dos anos 1970 e como propriamente aquelas mudanças foram discutidas na sociedade e implementadas. Então comecei a ler mais, a estudar e depois a pesquisar, organizar o pensamento. Fui para outras áreas de políticas públicas, chegando mais próximo da macroeconomia. Como os economistas passaram a se envolver com diferentes áreas de atuação, com políticas públicas e com o debate político. O livro é resultado dessa inquietação.
João Villaverde
É jornalista e mestre em Administração Pública e Governo pela FGV-SP. Foi pesquisador visitante na Universidade de Columbia (Nova York). É autor do livro-reportagem Perigosas Pedaladas (Geração Editorial, 2016), sobre o impeachment de Dilma Rousseff.